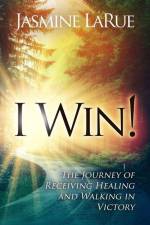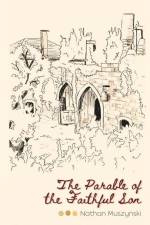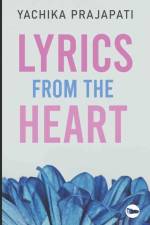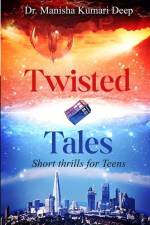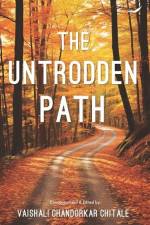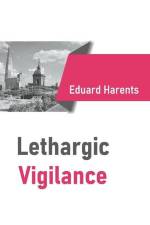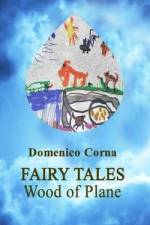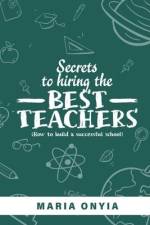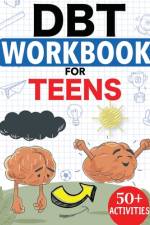av Maria Onyia
151
To every outsider, owning and running a school seems straightforward. One would assume it is as simple as getting a site, building a school, employing staff, and enrolling students, and the school will run smoothly. Still, the reality is far from this perception, mainly because the competition to meet the needs of today's parents and students is stiff. To remain at the top of the game and consistently deliver excellence in student academic performance and acquisition of additional skills, the school owner and all the school's leadership must put in some substantial efforts in establishing the ideal groundwork for student success. They must protect the integrity of their program by ensuring quality service delivery on all fronts. If one is unaware of the importance of this critical assignment, a single imprudent decision, an incorrect hiring choice, an unaddressed action, or a lack of oversight could lead to the gradual or sudden dissipation of years of diligent effort. The potential consequences prove the need for attentiveness, sound judgment, and meticulous management to safeguard the fruits of substantial labour. Some years ago, school owners could afford the luxury of monopolizing excellence because there was less competition than we have today. Now, there are several excellent schools to contend with; therefore, serious school owners must aim for a competitive advantage. One area of critical competitive advantage to consider, and the most important is the TEACHER. Researchers suggest that the most crucial factor in students' success is the efficacy of the teacher. Sector experts have concluded that the students of a school epitomize the effectiveness of the people who teach them, and the school is as good as the quality of the students they graduate. Moreover, with the cutthroat competition in the sector, it is easy to lose your best teachers and staff to competitors, and when that happens, your school is negatively impacted. It is imperative, therefore, that school owners focus on employing and retaining the best hands if they want to experience consistent academic excellence and overall growth. I am writing this handbook to share our strategies for managing the intricacies of acquiring and managing a healthy teaching community. In this handbook, I will share our process for hiring the best teachers, training them, and retaining them. I will also share tips on marketing your school for growth and profit.